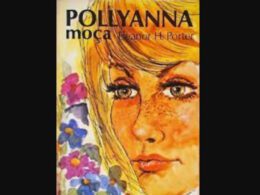Aqui, moço, dormia uma onça – não sei se pintada. Chamam este lugar de furna; se fosse um pouquinho mais fechado seria caverna?
Depois daquela ladeira enorme, você pode chegar à estátua e, descendo por algumas pedras, ver o sono do Sol. Ele vai adormecendo para acordar outros lugares, outras coisas, outras casas. E aqui parece que a gente sabe disso com mais firmeza – por que, pelo menos, Sol, arroz e feijão talvez estejam na maioria das bocas.
As pracinhas já nem são como antes, mas são o começo de divagações, desenhos, namoros – as folhas caem, como em todas as pracinhas do mundo. E quando a da Matriz aguava colorido, eu era sonho: o coreto era meu castelo e, de vez em quando, a banda tocava pra mim e pros meus convidados; em cada tanque, as lâmpadas eram diferentes e deixavam-se dançar por borboletas, besouros, mosquitos e outros insetos especialistas em luz. Mas hoje é bom ficar rindo e lembrando, sempre que possível.
Outro sol também é visto do Açude Grande: se você tiver paciência, deixe o céu ficar escuro. Observe algumas pinceladas de rosa e laranja entre as poucas nuvens, algumas canoas com alguns pescadores, algumas muriçocas que ficam procurando peles lisinhas e coradas. A vegetação daqui é seca, como o clima, como o chão, como certos olhares, mas nada impede uma alegria qualquer, que chega nos botecos, nas escadarias e nas escolas. À noite, principalmente, há como saber da chuva: se você estiver sozinho, não ouvirá a canção da rasga-mortalha – ela só gosta de aridez e mau-agouro. Em tempos quentes – os mais longos – as estrelas vão piscando, piscando, piscando.
Quando há festa, os nativos comemoram um reencontro: é sempre uma coisa meio tribal, mesmo disfarçadamente mundana. E eu gostaria que houvesse, para cada habitante, um motivo para estar leve o tempo todo; já que não há, exala-se um certo tipo de arte. Alguém sempre está aprendendo a cantar, a tocar, a pintar, a esculpir, a representar, a sorrir com um monte de almas.
Se você for à feira, há gente gritando, claro, e pratos, bacias, xícaras, milho e farinha à granel, bruxinhas, lambedores, elixires e xampus-do-mato. As expressões se escondem no ar – é necessário esperá-las; quando encontram vontade, saem pelos dentes: farnizin, impossíve, entertido, êita, vixe-maria, áfe, ié, chau, intuiando, munturo, ei, ôxe…
Nem esperança falta por aqui – nem mesmo ela, tão cansada. Falam da ‘terra que ensinou a Paraíba…’, ‘da cidade mais distante…’, ‘da terra do Padre…’. Falam tudo. Quantos pés-de-cajá existem? Com exatidão, não sei. O que posso dizer é que a frutinha permanece, até hoje, entranhada no sabor e no nome da cidade. A acidez é agradável e doce, na maioria das vezes. Gosto dela.